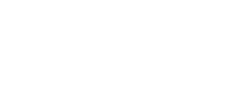A Base Nacional Comum Curricular e a educação banqueira
14 de Março de 2016 às 10:05:28
Fala-se muito em educação no Brasil. Em geral, vemos nela, ou na ausência dela, uma das raízes de nosso atraso. Nos últimos meses, tem ganhado força um debate em torno da chamada “Base Nacional Comum Curricular” (BNCC) que, segundo o Ministério da Educação, pretende renovar e aprimorar a educação básica brasileira. Desde setembro, o texto está aberto a contribuições no site do Ministério e já conta com quase onze milhões de críticas. Isso mesmo, onze milhões.
Pululam, nos principais veículos midiáticos, artigos e matérias, frequentemente opinativos, sobre esse novo currículo comum da educação fundamental e média. Em editoriais dos maiores jornais, em artigos assinados ou não e em reportagens na TV aberta e paga são fartas as críticas, sobretudo à presença, à ausência ou ao excesso de conteúdos da proposta curricular, além de acusações de imposição de ideologias de esquerda.
Embora haja muito o que comentar a respeito dos conteúdos, estratégias pedagógicas ou ideologias presentes no BNCC (vide os dez milhões de envios), há questões que raramente entram em pauta.
Um delas, diz respeito à influência dos agentes privados na construção da BNCC. Apesar de, na grande mídia, ouvirmos falar de tal base nacional curricular há relativamente pouco tempo, existe, obviamente, um histórico de discussões que a precedeu e deixou seus rastros.
Nesse histórico, estão presentes os chamados “parceiros” pelos agentes públicos. Trata-se de instituições financeiras, empresas, fundações e instituições filantrópicas, geralmente financiadas pelo deslocamento de impostos de grandes corporações.
Com maior ou menor protagonismo, estão entre os parceiros: Itaú - Unibanco, Bradesco, Santander, Gerdau, Natura, Fundação Victor Civita, Fundação Roberto Marinho, Camargo Corrêa, Fundação Lehmann e Todos pela Educação e Amigos da Escola.
Antes da apresentação da primeira versão BNCC pelo MEC, foram realizados inúmeros eventos (seminários e encontros) nacionais e internacionais, nos quais se discutiram aspectos amplos e específicos das políticas educacionais.
Algumas vezes financiados pelas grandes fundações, tais encontros reuniam agentes privados e públicos (MEC, Conselho Nacional de Educação, Conselho Nacional de Secretários de Educação e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação).
Dentre os agentes privados despontou, com protagonismo, a Fundação Lemann, de Jorge Paulo Lemann, um dos controladores da cervejaria Anheuser-Busch InBev e do fundo de participações 3G Capital (dono do Burger King, Americanas, Submarino, Shoptime e da Heinz).
A questão que se coloca é: por que uma elite financeira estaria interessada em promover iniciativas na educação em âmbito nacional?
A professora Elizabeth Macedo, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, nos ajuda na resposta. Tais agentes políticos privados estão ávidos por incorporar vigorosamente à educação pública uma lógica empresarial contemporânea. A escola como empresa. Aliás, dentro dessa lógica, toda atividade humana organizada pode ser uma empresa. E uma empresa visa resultados e esses resultados devem ser medidos.
Em outros termos, esses grandes grupos econômicos desejam transpor à educação pública uma ideologia de produtividade e controle. Embora objetivos e avaliações devam ser assuntos caros à educação, incorporar uma lógica empresarial, que desconsidera o que não pode ser medido e dá centralidade aos resultados, pode ser altamente nocivo.
O imponderável fica de fora. O desejo por resultados e, por consequência, a competição podem acabar por sobreporem-se a elementos essenciais dos processos de aprendizagem. Os significados que atribuímos às coisas e aos fatos (de toda natureza), por exemplo, vão além das relações de causas e efeitos padronizáveis e mensuráveis. Não se mede a dor pela quantidade de sangue derramado, nem a alegria pela largura do sorriso.
Na complexidade das relações entre Estado e capital privado, surgem também atores internacionais. Instituições americanas, como a Bill and Melinda Gates Foundation, a Fundação Khan e Universidade de Stanford são importantes parceiros da Fundação Lemann.
Elizabeth Macedo defende que a BNCC tem como modelo a experiência estadunidense do Núcleo Comum (Common Core), com centralidade nos objetivos e em padrões de avaliação. Por trás disso, há o que a Fundação Itaú Social chama de “paradigma de colaboração integrativa” entre o público e o privado que, mais que organização e produtividade, “visa à produção de uma narrativa hegemônica sobre o que é qualidade na educação e sobre como atingi-la”, diz Elizabeth.
Durante a ditadura, a Universidade de San Diego ditou os rumos de nossa educação.Agora, outros agentes externos interferem na base curricular brasileira: agentes oriundos de um país hegemônico, os EUA, que quer continuar hegemônico, como disse a arte-educadora Ana Mae Barbosa.
Mais do que a especificidade do interesse de uma ou outra instituição, seja brasileira ou estrangeira, há uma força maior caracterizada pela transposição das lógicas empresariais aos bens públicos e pela política dos resultados, das metas.
Dessas lógicas provêm as experiências de gestão das OS (Organizações Sociais) na educação pública – que tendem a seguir o exemplo das Charter Schools estadunidenses – e minam o poder de ação das secretarias de educação (vide o caso do governo do Estado de São Paulo).
Pode-se também tecer analogias entre a ânsia por resultados e a atual política de democratização do ensino público no Brasil. Como escreveu Christian Dunker em recente artigo, trata-se de uma democratização precária, uma inclusão sem estruturas suficientes para a permanência qualitativamente significativa dos incluídos na escola. O objetivo são os números.
Há uma particularidade na BNCC que tem provocado muita discussão. Essa, relativa ao conteúdo, sobretudo da área de História. Trata-se da forte presença de temáticas das populações ameríndias, afro-brasileiras e latino-americanas e uma grande redução de conteúdos ligados à matriz europeia e ocidental.
Embora a discussão tenha se inflamado nas bases – polarizada entre os “eurocêntricos” e as “minorias”, cultura dominante e dominada –, para as grandes forças econômicas que permeiam esse processo, tal discussão não é de grande interesse.
Não afeta necessariamente o núcleo do que se deseja: a implementação de lógicas de gestão privada na educação pública. Movimentos desejosos por negar sistemas culturais dominantes, na maioria das vezes, não atacam de fato o cerne da questão e são tomados como “oposições autorizadas”, facilmente empregadas pelo sistema dominante para seus próprios objetivos.
Outra, entre as muitas controvérsias da BNCC, diz respeito à inclusão da área de Artes no interior das Linguagens. Sob o pretexto da interdisciplinaridade, clama-se por professores polivalentes. Uma polivalência que é, como diz Ana Mae Barbosa, uma versão reduzida e incorreta do princípio da interdisciplinaridade.
Artes Visuais, Teatro, Dança e Música tornam-se subcomponentes, diluem-se no interior de outras disciplinas e em práticas superficiais de professores que, mesmo com toda boa vontade do mundo, não podem dominar o aparato/conhecimento teórico e técnico necessário para ensinar diferentes configurações artísticas.
Dentro desse contexto específico, as artes constituem-se como partes fracas pois, sob uma ideologia sedenta por padronização, uma atividade que tem entre seus valores singularidade e subjetividade não seria, obviamente, bem incorporada.
À “educação bancária” apontada por Paulo Freire – como uma atitude autoritária em relação aos alunos –, acrescenta-se, como Ana Mae, mais uma forma a ser combatida: a “educação banqueira”, na qual o capital financeiro encontra mais uma de suas formas de expressão.
Fonte: Carta Capital